GUILHERME W. MACHADO
O meu passado é tudo quanto não consegui ser. Nem as sensações de momentos idos me são saudosas: o que se sente exige o momento; passado este, há um virar de página e a história continua, mas não o texto. (PESSOA, Fernando)
Os livros de história documentam os
eventos do passado, guerras, tratados, leis e civilizações; apenas a arte,
todavia, é capaz de dar vida a esses elementos, traduzindo-os numa comunidade
viva, com todos seus charmes e idiossincrasias. O Grande Hotel Budapeste é um filme sobre a passagem do tempo,
sobre a mudança de eras. Wes Anderson adota um olhar nostálgico na criação
dessa sua cativante fábula sobre a Europa nos anos 30, em contraposição ao
olhar mais decadente para a mesma nos anos 60 e nos tempos atuais. O próprio
tempo que provém o charme a uma época passada, uma vez que só se pode
adotar um olhar saudosista sobre o que já passou, desvirtua-nos do mesmo, inevitavelmente.
O Grande Hotel Budapeste tem sua história desmembrada em três momentos
históricos: dos anos 85 até o presente, sendo as primeiras cenas, a do
cemitério e o monólogo do escritor velho (Tom Wilkinson); os anos 60, período
no qual o escritor, interpretado por Jude Law, está no hotel e encontra Zero Moustafa
(F. Murray Abraham); e os anos 30, que é a maior parte do filme, onde são contadas
as desventuras de M. Gustave (Ralph Fiennes). A consciência de Anderson sobre
seu próprio material é tão grande que suas escolhas estéticas refletem seus
períodos históricos e a própria visão do autor sobre os mesmos. Enquanto os
anos 30 são filmados num enquadramento de 1.37:1 (tela quadrada), os anos 60
são filmados em 2.35:1 e os tempos atuais (da metade dos anos 80 pra cá) em
1.85:1. As mudanças de enquadramento representam toda uma mudança ótica e de
perspectiva de uma época sobre a outra, e são aliadas às alterações do design
de produção e da fotografia, que criam um mundo mais exuberante na era mais antiga e uma versão mais decadente e antiquada do mesmo nas duas subsequentes.
O tempo e sua inexorabilidade
estão presentes durante toda extensão do filme. Como no diálogo entre Moustafa
e o escritor, no qual o primeiro aponta que seu concierge não é “de primeira,
nem mesmo de segunda”, completando então com o dizer: “os tempos mudaram”. O
quadro “O Menino com a Maçã”, que era tão valioso numa época, viu seu valor
decair com o passar do tempo e acabou como um mero quadro de recepção de hotel.
A última viajem de trem de M. Gustave, filmada em preto e branco, simbolizando
uma radical mudança histórico-temporal em relação à primeira. O detalhista
roteiro de Anderson, que num olhar mais descuidado poderia parecer focado na
comédia e desprovido de conteúdo, consegue desenvolver suas temáticas sem
pesá-las demais sobre a trama, fazendo com que seu filme seja tão envolvente
quanto profundo.

Sem abrir mão de sua
misé-en-scene particular e de seu tom fabulesco, Wes Anderson retrata, no seu
colorido universo paralelo, de forma brilhante a complicada situação europeia à
margem da segunda guerra. A abordagem humorística não diminuí em nada a
relevância dos eventos, mas possibilita a uma representação incrivelmente divertida
de uma época completamente dramática. O curioso é que O Grande Hotel Budapeste consegue desenvolver um conteúdo dramático
sem jamais ser pesado, nem nunca o infantilizando. Quando se olha por trás das
piadas e da encenação exuberante da Anderson, quase todos eventos da história
são trágicos, nada romantizados (sendo romântica apenas a narrativa, não os
fatos).
Semelhante ao que Michael Curtiz
fez em Casablanca (1942), Anderson
consegue explorar uma vasta gama de gêneros dentro de O Grande Hotel Budapeste, destrinchando seus clichês e
utilizando-os a seu favor num ímpeto criativo invejável. O filme possui
violência, humor, tiroteio, perseguições, drama, prisão, romance, retrato
histórico, sendo eficiente em absolutamente tudo o que se propõe. Todos elementos
são bem desenvolvidos e utilizados em prol da obra, com inteligentes ironizações acerca dos vícios
narrativos de cada gênero (através das constantes quebras climáticas de
Anderson, nas quais ele utiliza os clichês numa espécie de ridicularização, resultando
em cenas extremamente engraçadas).
É impossível não creditar méritos
à excepcional parte técnica do filme, que consegue a rara façanha de realmente
contribuir para a história, não sendo apenas um espetáculo visual – o que, por
si só, já seria um mérito. Como já disse anteriormente, o design de produção e
a fotografia ajudaram a estabelecer o ponto de vista de Anderson sobre as
diferentes épocas nas quais o filme se passa. A excelente trilha sonora de Alexander Desplat (Árvore da Vida, A Pele de Vênus) completa o que é
dito pelas imagens, sendo essencial para o sucesso de Anderson na sua vasta
mistura de gêneros.
O elenco é, possivelmente, o
maior da década (até agora) em termos de acúmulo de nomes famosos. A maioria deles tem
pouco tempo em cena, sendo coadjuvantes de luxo que compõe a odisseia do
protagonista; todos eles têm, entretanto, bons trabalhos e caracterizam
perfeitamente seus personagens e os estereótipos – coisa com a qual Wes
Anderson sempre adorou brincar ao longo de sua carreira – que eles representam. Destaque, no âmbito dos coadjuvantes, para Adrien Brody, ótimo no estereótipo do aristocrata-vilão-filho-aproveitador. Ralph Fiennes, o único que tem bastante espaço no filme, tem uma atuação
espetacular, que concorre fortemente para ser a melhor atuação masculina do
ano. M. Gustave é um peculiar e cativante protagonista que simboliza todos os
valores perdidos de uma geração anterior até mesmo à sua. A composição sutil
desse difícil personagem, tanto por parte de Fiennes quanto do próprio Anderson
na criação do mesmo no roteiro, é fantástica. O ator acentua todo charme e
idiossincrias de papel numa atuação detalhista, dando um show em tudo, da
comédia ao drama.

O Grande Hotel Budapeste é uma nostálgica e deliciosa viagem no tempo, que
transborda criatividade e originalidade em todos os momentos. Essa fabulosa
reciclagem de Anderson, que extrai elementos característicos e até antiquados
de vários gêneros cinematográficos para unificá-los em algo completamente novo,
resulta numa obra completa e irresistível. Tudo é cuidadosamente planejado e
filmado pelos milimétricos e engenhosos enquadramentos de Anderson, que conduz
sua obra com uma graciosidade apenas atingível por um mestre consciente de sua
arte e de seus objetivos. O melhor filme do ano.
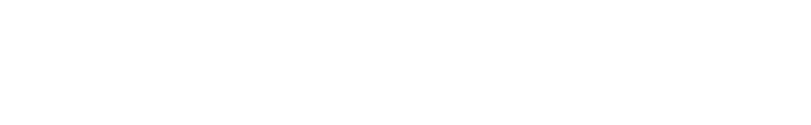




Comentários
Postar um comentário