GUILHERME W. MACHADO
A última vez que me lembro de um homem desbravando a natureza de um país estrangeiro, pretensamente em busca de um ex-líder que, nas condições extremas da cultura em que se encontra, rebelou-se contra o sistema que o enviou aquele lugar, foi no Apocalypse Now [1979] de Francis Ford Coppola. No caso digo pretensamente porque, tanto no filme de Coppola quanto no de Scorsese, as buscas em que engrenam seus protagonistas tem muito mais a ver com questões existenciais do que propriamente tarefais. Se o filme de 1979 era uma jornada rumo a escuridão do ser humano, a nova obra-prima de Scorsese é rumo à essência da fé, e todas lutas e contradições que a envolvem.
OBS: Esse texto revela detalhes da trama (SPOILERS), leia por sua conta e risco.
Mas há ainda – e já declaro que, fora isso, não irei mais além nesse exercício de comparação, que provavelmente renderia um texto sozinho – outra semelhança fundamental entre esses dois filmes seminais. Em ambos casos os homens representam instituições (o exército e a igreja católica) que os enviam a lugares, em que não são chamados nem quistos, em tarefas nas quais impactarão profundamente as culturas – e por cultura pode-se entender como modo de vida – locais. Silêncio, mais do que Apocalypse Now, é um poderoso retrato do imperialismo cultural com toda sua arrogância e as consequências extremas que gera.
Por mais que Silêncio seja sim um profundo estudo sobre a fé católica, ele também é uma crítica voraz aos dogmas que a acompanham, e às ações da própria igreja. O último ato é monumental justamente ao demonstrar o quão arrogante e mal direcionada era a abordagem do padre Rodrigues (Andrew Garfield, numa atuação brilhante) em relação a sua prática religiosa, mas também o quão intensa e verdadeira era sua fé. Não era com a pedante lógica do mártir, tão infundida no catolicismo, que ele agiria certo perante aqueles que dele dependiam (seus fieis), nem com a imposição de sua visão sobre um povo que não compartilha dela. Foi apenas ao se desprender de todas essas aparências, desses apegos com o cerimonialismo e do culto às imagens – a um ponto em que o culto a imagem divina, materializado pela resistência de pisar num objeto inanimado, contrapunha o culto aos próprios ensinamentos da figura ali representada, que pregava o sacrifício pessoal em prol da vida humana –, que ele chegou a um entendimento sobre a essência de sua fé e sobre a questão que atormentou sua vida: o silêncio de Deus.
Embora o filme seja recheado de personagens coadjuvantes significativos na trajetória do protagonista, há dois que destaco em particular. Um, claro, é o padre Ferreira (Liam Neeson) que o guia para a compreensão de que certos valores são mais importantes do que dogmas institucionais e que o verdadeiro sacrifício nem sempre é a morte. Lição essa também evidenciada pela participação do padre Garupe (Adam Driver) na trama, cuja morte auto-provocada de nada serviu. O outro é Kichijiro (Yosuke Kubozuka), homem sobre o qual a visão de Rodrigues mais alterou-se ao longo de sua jornada, começando pela pena (pena que não deixava de ser condescendência, pois vinha de um sentimento de superioridade), passando pelo desdém, até transitar lentamente para a realização de que talvez, com toda sua ignorância e estupidez, esse fosse um homem que já compreendesse há muito tempo o que tanto custou, em sofrimento e tempo, para que ele, Rodrigues, entendesse.
No aspecto formal, não há o que questionar de Scorsese. Trilhando um caminho bem diferente dos grandes nomes que já passaram pelo tema, sendo um dos mais destacados o sueco Ingmar Bergman, Scorsese abre concessões até dentro de seu próprio estilo – que costuma envolver, mesmo em dramas intimistas, uma direção bem mais "cinética", com bastante movimentação de câmera e um ritmo veloz – para manter-se fiel à visão que teve para esse filme. A fotografia de Rodrigo Prieto e o design de produção de Dante Ferretti são excepcionais, e, junto da montagem da brilhante Thelma Schoonmaker, que aqui adotou um ritmo de cortes BEM mais lento que seu habitual, dão à obra um tom de contemplação belíssimo, reforçado pelo uso escasso de trilha sonora. Scorsese emoldura cada quadro brilhantemente, fugindo sempre que pode da estética expressionista que costuma acompanhar filmes com temas religiosos; ao contrário, seu tom aqui é seco, cinzento, com poucos contrastes, condizendo perfeitamente com pesar do que retrata, e com a sobriedade com a qual decide fazê-lo.
NOTA (4.5/5.0)
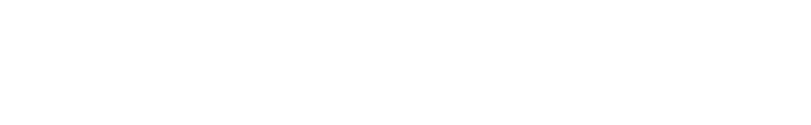





Comentários
Postar um comentário